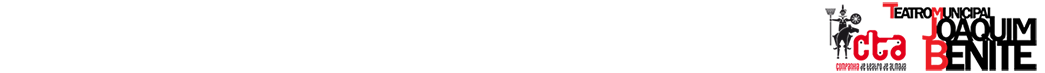Festival de Almada 2013
FESTIVAL ALMADA: IN MEMORIA DI JOAQUIM BENITE, FONDATORE E DIRETTORE DEL FESTIVAL, Revista Sipario, Outubro de 2013
A XXX edição do Festival de Almada teve uma notória recuperação, quer a nível orçamental, quer a nível do número de sessões (fixando-se nas 68). O número de sessões em Lisboa manteve-se em 34, embora descendo em percentagem (50%). É de referir que o Festival de Almada de 2013 foi o primeiro a realizar-se sem Joaquim Benite, falecido a 2 de Dezembro de 2012, passando o novo TMA a denominar-se Teatro Municipal Joaquim Benite. No entanto, o Festival manteve-se fiel aos seus pressupostos originais. Mantendo um compromisso com a qualidade e com a variedade de linguagens e proveniências, renovou a sua componente de ‘festa’, de encontro e de diálogo. A programação da XXX edição andou à volta de temáticas actuais, como a relação do Homem com a sociedade, o uso de drogas ou a adopção de crianças por casais do mesmo sexo. Notou-se ainda uma forte presença de companhias do norte da Europa (presença apoiada pelo Nordic Culture Fund), assim como peças de autores nórdicos.

Espectáculo de Honra
O SENHOR IBRAHIM E AS FLORES DO CORÃO Miguel Seabra – Teatro Meridional

Espectáculos
Cortar a meta, de Miika Nousiainen. Encenação de Minna Leino. Kansallisteatteri – Finlândia
Woman know your body. Texto e encenação de Kamilla Wargo. Mungo Park – Dinamarca
Victor, ou as crianças ao poder, de Roger Vitrac. Encenação de Emmanuel Demarcy-Mota. Théâtre de la Ville – França
Mulheres de Ibsen, a partir de Henrik Ibsen. Encenação de Juni Dahr. Visjoner Teater – Noruega
O Papalagui, a partir de Eric Sceuermann. Encenação de Hassane Kassi Kouyaté. Compagnie deux temps trois mouvements – França
País natal, a partir de Dimítris Dimitriádis. Encenação de Dimítris Daskas e Pierre-Marie Poirier. Théâtre Liberté – França e Grécia
O sorriso eterno, de Pär Fabian Lagerkvist. Encenação de Fredrik Hannestad. Verk Produksjoner – Noruega
O Prémio Martin, de Eugène Labiche. Encenação de Peter Stein. Odéon – Théâtre de l’Europe – França
A última gravação de Krapp, de Samuel Beckett. Encenação de Peter Stein. Produção de Klaus Maria Brandauer – Áustria
Menina Júlia, de August Strindberg. Encenação de Anna Pettersson. Anna Pettersson Productions – Suécia
O principezinho, de Saint-Exupéry. Encenação de Roberto Ciulli. Teatro de la Abadía – Espanha
História de um coração partido. Texto e encenação de Saara Turunen. Q-Teatteri – Finlândia
O vento num violino. Texto e encenação de Claudio Tolcachir. Timbre 4 – Argentina
i.b.s.e.n., de Miguel Castro Caldas. Encenação de Cristina Carvalhal. Teatro da Trindade
A linha amarela, de Juli Zeh e Charlotte Roos. Encenação de Ivica Buljan. Zagrebacko Kazaliste Mladih – Croácia
Maldito seja o traidor da sua pátria!, de Oliver Frljic. Slovensko Mladinsko Gledalisce – Eslovénia
Macadamia nut brittle. Texto e encenação de ricci/forte. Compagnia ricci/forte – Itália
Heroína. Texto e encenação de Grace Dyas. Theatre Club – Irlanda
E se nos metêssemos ao barulho?!. Criação colectiva. Encenação de Benoît Lambert. Théâtre Dijon-Bourgogne – França
Sala VIP, de Jorge Silva Melo. Encenação de Pedro Gil. Artistas Unidos
O senhor Ibrahim e as flores do Corão, de Eric-Emmanuel Schmitt. Encenação de Miguel Seabra. Teatro Meridional
Noites brancas. Criação de Mónica Calle, Paula Diogo e Sofia Dinger. Maria Matos Teatro Municipal
Ai amor sem pés nem cabeça, de vários autores. Encenação de Luis Miguel Cintra. Teatro da Cornucópia
Cada sopro, de Benedict Andrews. Encenação de John Romão e Paulo Castro. Co-produção: Colectivo84 / Stone Castro
Candide, de Leonard Bernstein. Direcção de João Paulo Santos. Teatro Nacional de São Carlos
O pelicano, de August Strindberg. Encenação de Rogério de Carvalho. Companhia de Teatro de Almada
A laugh to cry. Texto e encenação de Miguel Azguime. São Luiz Teatro Municipal
Sonho de uma noite de Verão, de Felix Mendelssohn-Bartholdy. Direcção musical de Pedro Neves. Orquestra Gulbenkian
Joaquim Benite
personalidade homenageada
 Combatente, como também foi, Joaquim Benite conseguiu dobrar aqueles que ousaram atacar as suas fracas subvenções. O seu público — aquele que passou a encher a sua nova sala — saiu em defesa do seu teatro, no célebre Abraço ao Teatro Azul, em Dezembro de 2010. Pedagogo, podia falar durante horas aos seus actores do texto que trabalhavam, do seu significado político, do seu Autor — mas quando se tratava de discutir um novo espectáculo comigo, combinávamos tudo em meia dúzia de palavras. E as suas ideias eram tão claras que muitas vezes, logo de seguida, fazia-lhe uma primeira maqueta do cenário. E retomávamos as nossas intermináveis discussões sobre o estado do Mundo.
Combatente, como também foi, Joaquim Benite conseguiu dobrar aqueles que ousaram atacar as suas fracas subvenções. O seu público — aquele que passou a encher a sua nova sala — saiu em defesa do seu teatro, no célebre Abraço ao Teatro Azul, em Dezembro de 2010. Pedagogo, podia falar durante horas aos seus actores do texto que trabalhavam, do seu significado político, do seu Autor — mas quando se tratava de discutir um novo espectáculo comigo, combinávamos tudo em meia dúzia de palavras. E as suas ideias eram tão claras que muitas vezes, logo de seguida, fazia-lhe uma primeira maqueta do cenário. E retomávamos as nossas intermináveis discussões sobre o estado do Mundo.
Jean-Guy Lecat
PRÉMIO DA CRÍTICA 2013 . Prémio APCT: Festival de Almada
Em Julho de 2013 decorreu a trigésima edição do Festival de Almada. Foi criado em 1984, por Joaquim Benite. A regularidade do Festival – duas semanas em Julho – instalou-se como uma das suas marcas. Num mundo, num país e num contexto em que a noção de certeza é um absurdo, e a criação de expectativas apenas serve para tornar as pessoas familiares com a ideia de catástrofe ou, pelo menos, infelicidade, tal atitude de fidelidade é um milagre. Outro milagre é, evidentemente, a obstinação que faz com que uma pessoa crie uma regra e se mantenha fiel à mesma, sem disso esperar lucro financeiro imediato. Estas regras tão estritas foram, contudo, o quadro para uma organização de diversidade única. O Festival de Almada era um Festival de Teatro. Era um festival que inicialmente pretendeu mostrar o que se fazia em Portugal.
Rapidamente começou a trazer para si também o teatro que se fazia fora de Portugal. E, de maneira regular e obstinada, passou a incluir ainda coisas que estão ligadas ao campo do espectáculo sem que tenham de ser teatro em sentido estrito – a música e a dança, de maneira quase inevitável. E passou a incluir manifestações do mundo da criação artística a que não é alheio quem é curioso e quem necessita da arte para existir: a literatura, as artes plásticas, o cinema, as discussões sobre estas artes, e sobre as obras que se podiam ver no festival; e sobre as obras que não se viam no festival, mas de que se devia falar, que era bom conhecer.
O Festival mostrou coisas que nunca tinham sido reunidas assim entre nós, e que, mesmo sem ser entre nós, muito poucas vezes são assim chamadas a conviver, entre si e com o público. Teatro da Tunísia, Teatro de Cuba, da Argentina, da Finlândia, da Noruega, da Rússia, da República Checa. Teatro de pessoas como Denis Marleau com Os Cegos, de Maeterlinck, teatro de Jacques Nichet, de Pippo Delbono, de Robert Cantarella, de Matthias Langhoff, de Spiro Scimone, de Fausto Paravidino e de Ascanio Celestini. Teatro de Oskaras Korsunovas, de Roger Planchon e de Josef Nadj. Teatro dos TgStan, de Philippe Genty, de René Pollesch, de Yaël Ronen. Do Teatro Praga, de Mónica Calle, do Mundo Perfeito, de André Murraças. “Pesos pesados” inesquecíveis, como Benno Besson, como Bernard Sobel, que deixou um rasto de uma exemplaridade única, e como Peter Brook e a sua rara e difícil simplicidade. “Pesos pesados” que ninguém mais trazia, contra más vontades, modas e crises, como Peter Zadek e o seu sublime Peer Gynt, como o Piccolo Teatro de Milão e o mítico Arlequim, Servidor de dois Amos. Golpes geniais como I am the Wind, de Jon Fosse, encenado em inglês por Patrice Chéreau; Goethe, Labiche e Beckett encenados por Peter Stein. E Klaus Maria Brandauer, e Edith Clever. E Ricardo Pais, Luis Miguel Cintra, Jorge Silva Melo, João Mota, João Brites. E Olga Roriz. O novo e o velho, o antigo e o moderno, o conhecido e o desconhecido; o genial e o duvidoso, o que deslumbra, o que causa perplexidade, o que enfurece.
O Festival de Almada, como é próprio da palavra “festival”, foi sempre um período de celebração e de grande júbilo. O público foi sempre imenso e fidelíssimo – aqui, a constância do seu fundador encontrou um rival à sua altura. É curioso que, tendo sido chamado Festa de Teatro, Festival de Teatro de Almada e, finalmente, Festival Internacional de Teatro de Almada (apesar de extravasar, hoje em dia, dos limites estritos de Almada), basta dizer, coloquialmente, Festival de Almada para que se saiba do que estamos a falar. O “internacional” passou a fazer parte do nome sem que seja preciso dizê-lo. Passou a ser natural, como realmente deve ser. Como lição e exemplo de cosmopolitismo, este facto deveria ser matéria de reflexão.
Desde 2013, altura da trigésima edição, o Festival passou a ser dirigido por Rodrigo Francisco, pela simples e tremenda razão de Joaquim Benite já não estar cá para o fazer. Esta primeira edição da nova fase foi uma edição marcada por dois traços fundamentais: um prende-se com uma continuidade, entre esta última e as anteriores edições, sem rupturas; se marcas acrescentadas houve, elas podem reconduzir-se a uma sensível, gratificante e compreensível carga emocional que se manteve ao longo das duas semanas de Julho. Outro traço foi uma vontade de estar atento ao presente, tanto ao presente do mundo, em geral, como ao presente da criação artística, sem perder de vista a lição daqueles com quem se aprendeu a querer conhecer os outros. Parece-me isto o mais importante. Resta acrescentar um aspecto que não é possível descrever sem alguma deselegância, mas que é impossível escamotear, e que se prende com a recusa em transformar o festival numa feira de teatro, num horizonte de formatação da criação artística. De facto, o Festival de Almada, reflectindo nisto, rigorosamente, a personalidade do seu fundador, deve a sua existência ao interesse pela criação artística, pelas obras e pelos artistas. Nunca foi uma instância de legitimação, uma máquina de conferir legitimidade, um aval de respeitabilidade. Isto é, hoje, cada vez mais difícil e mais raro; e, em sentido próprio e em sentido figurado, não tem preço.
Pelo júri da APCT 2013, João Carneiro.
Prémio Internacional de Jornalismo Carlos Porto
TIAGO BARTOLOMEU COSTA, Público, 13 de Julho
Um homem que acreditava na sedução do teatro
Joaquim Benite (1943-2012) é, inevitavelmente, a figura homenageada do Festival de Almada. Um livro, um filme, uma exposição e um colóquio para lembrar um dos escritores da história do teatro português.
Nas paredes do recreio da Escola D. António da Costa, antes de se formar a fila que encaracola várias vezes até entrar na plateia do palco principal do Festival de Almada, há um painel que explica como se deve organizar um teatro.
São várias folhas, agora organizadas como se fossem parte de uma instalação (exposição para ver até dia 18 de Julho), escritas numa letra escorregadia mas sempre legível, que se perdem em pormenores sobre a composição dos públicos, o preço dos bilhetes e as suas implicações, como serão distribuídas as funções da equipa e que passos são os necessários para que um teatro seja, afinal, e sempre “um refúgio de liberdades”.
A expressão, bem como a letra e o sonho de um festival que começou há 30 anos, pertencem todos ao mesmo homem, Joaquim Benite, encenador, director da Companhia e do Festival de Teatro de Almada, até morrer, em Dezembro passado, depois de quase dois anos de. complicações médicas. É, como não podia deixar de ser, o homenageado de um festival que foi criado, disse-o em 2011, para que o seu próprio teatro “fosse confrontado com um maior grau de exigência”. E acrescentou:
“Não tenho o complexo provinciano de sermos os melhores da quintinha. Temos de nos confrontar com os melhores; por vezes somos humilhados, mas aprendemos. Só se cria um público na diversidade”.
Hoje, às 10h30, na Casa da Cerca, Joaquim Benite é homenageado com o lançamento de uma biografia, da autoria de Maria Helena Serôdio, presidente da Associação de Críticos de Teatro e directora do Centro de Estudos de Teatro da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde é professora catedrática.
O livro, intitulado Joaquim Benite desafiou Próspero e inscreveu o Mundo no seu teatro, é uma viagem ao universo de um homem que, escreveu a autora, “na sua obstinada resiliência, muitas vezes em combustão exaltada (contra quase tudo e quase todos que não reconhecessem na arte do teatro o lugar de mais exigente e esclarecida humanização, ou não exigissem da vida a ‘afirmação do sonho e do ideal como constituintes enérgicos da alma humana’), cumpriu o seu programa: quis e soube criar um público que, por uma alquimia singular, se mostra interessado, cúmplice, sabedor”.
Em 1985, numa entrevista a Baptista-Bastos, Benite defendia as suas escolhas enquanto artista a partir do prisma da responsabilidade enquanto cidadão. “Trabalhar na descentralização implica uma actividade dupla ao nível da criação artística e ao nível da pedagogia. Não nos podemos limitar a funcionar como artistas, mas, também, como pedagogos e animadores culturais. Assim, não é propriamente o grande êxito que procuramos. Procuramos, isso sim, uma actividade continuada, além da divulgação de um reportório e da habituação do público ao teatro. O que significa que não é importante, para nós, que uma peça tenha muito público, mas sim que o público vá crescendo de peça para peça. Isto é: que se vá formando um público, ainda que reduzido”.
Será por isso que a apresentação do livro antecede um colóquio, também na Casa da Cerca, em Almada, sobre o homem que movia tantas utopias quanto as possíveis, e dizia sempre ser possível muito mais. O evento contará com a presença de fiéis seguidores da sua obra, como os críticos João Carneiro e Jean-Pierre Han; o director da Escola Superior de Artes Dramáticas de Espanha, José Gabriel Antuñano; o encenador italiano Mario Mattia Giorgetti e as investigadoras Marina da Silva e Maria João Brilhante, para além da autora da biografia, Maria Helena Serôdio.


O encontro servirá para reflectir sobre a obra de um homem que tinha, descreve-o Maria Helena Serôdio logo às primeiras páginas, uma “vivíssima capacidade crítica” que teve desde o início, mesmo antes de ser fundador e encenador do Grupo de Teatro de Campolide, antes de 1974, e mesmo antes disso, como jornalista e crítico, e depois de tudo, quando se mudou para Almada e ajudou a fazer a história do teatro português. O trabalho de Benite “implicou sempre uma grande lucidez relativamente ao teatro que se ia fazendo e às exigências que ele sempre quis colocar ao trabalho em que se envolvia”. A autora descreve-o como alguém que teve sempre “consciência das dificuldades que era preciso vencer e das debilidades do ambiente cultural em que foi fazendo caminho”.
No texto de apresentação de Tuning, peça de estreia em 2007 de Rodrigo Francisco, Benite escreveu que o teatro é “um fazer e desfazer contínuo, uma aventura ininterrupta em que a chama vai passando de uns para outros, mantendo viva a renovada ilusão da eternidade que subjaz ao acto criativo”.
Rodrigo Francisco, hoje à frente do teatro, da companhia e do festival, foi a sombra de Benite e a mão que o ajudou a terminar Timão de Atenas, o último espectáculo, estreado quinze dias após a sua morte. É isso que vemos em Não basta dizer “Não” – a última encenação de Joaquim Benite, filme-documentário assinado pela realizadora e jornalista Catarina Neves, em estreia hoje, às 19h, na sala principal do teatro que tem hoje o nome do homem que o fundou, em 2004, vinte anos depois de ter começado um festival em Almada, no Beco dos Tanoeiros.
É, para além de um documento precioso, e raro, sobre métodos de trabalho e de exigência, um extraordinário retrato de um homem de uma crença profunda no teatro como transformador de mentes e da sociedade. Maria Helena Serôdio di-lo no livro: “ O perfil intelectual de Joaquim Benite — comprometido com um ideal humanista e com uma intervenção esclarecida e combativa no plano cívico — orientou decisivamente a sua actuação plural e reflectiu-se nessa sua capacidade de mobilizar vontades, despertar nos outros o gosto pela arte, apelar à consciência crítica”.

Timão de Atenas, de Shakespeare, que com Benite estreou em Portugal após uma primeira versão no Festival de Teatro de Mérida, em 2008, que não o satisfizera, tem a dificuldade de ser lida, efectivamente, como peça testamentária de um homem que deixou tudo preparado para o que se seguisse. A tragédia de um homem que se vê sem amigos quando perde tudo e se dá conta de que se com o dinheiro conseguia comprar tudo, com as palavras quase nada tem, foi o último gesto de reconstrução proposto por Benite, profundo crente no poder do diálogo e da partilha.
O que vemos no filme, do mesmo modo que o entendemos no livro — que escolhe, com particular cuidado, algumas das intervenções públicas de Benite sobre o teatro, os Homens, a política, a cultura e a sociedade —, é um desejo de resposta. Vemo-lo com os actores, pedindo-lhes que reajam, como se buscasse cúmplices em cada palavra e deles não se pudesse afastar. Como se fosse um maestro, mais do que um encenador. Os netos, que têm do avô uma outra imagem, falam de um cozinheiro de mão-cheia. E a metáfora não podia ser melhor.
Contraditório, culto e dedicado, Joaquim Benite nunca deixou por outras mãos esse desejo de resposta e mudança. Razão pela qual por certo diria que deixássemos de olhar para as folhas cheias de anotações impressas nas paredes e não perdêssemos o lugar na fila da plateia. Que o encontrássemos depois, diria. Mas agora que Joaquim Benite não está, já não se pode fazer a melhor homenagem — “ir ver os seus espectáculos em vida”, como diz Catarina Neves. Mas Joaquim Benite estará, se mantivermos a mesma frente de “discussão permanente” que tinha com quem o rodeava, como escreveu Maria Helena Serôdio.